
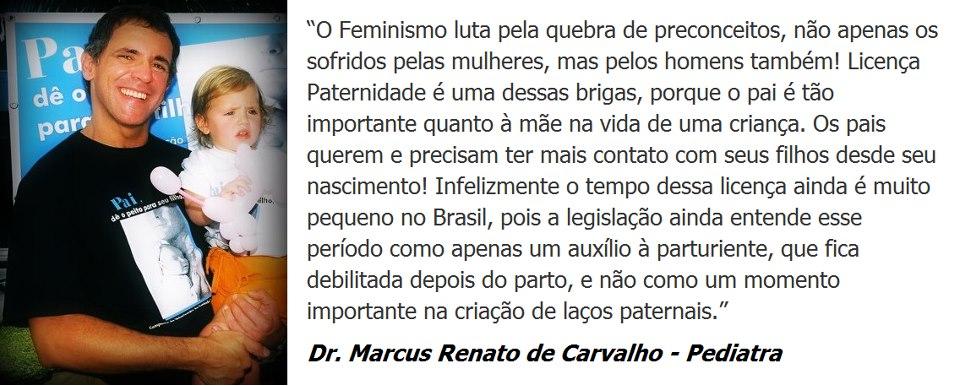
![]()
PAI é PAI
“Nas últimas semanas tenho ouvido muito a expressão “mãe é mãe”. Eu a ouço sempre que conto a alguém o momento atual da minha experiência como pai. É que depois de três meses iniciais em que estive quase todo o tempo com minha filha, sendo uma referência muito forte para ela, tive que (e também o desejei) trabalhar mais, sair mais de casa, e assim minha presença junto a ela diminuiu, e com isso o lugar da minha paternidade.
Diferentemente do relato de vários amigos, minha paternidade pré-edípica não foi experimentada nos primeiros meses enquanto privação, exclusão ou ao menos certo afastamento. Ao contrário, creio ter sido para minha filha uma referência de confiança e segurança tão central quanto foi a sua mãe. Em diversas situações em que ela se assustava (na presença de muita gente, por exemplo), meu corpo era um porto seguro de efeito imediato. À noite, eu a ninava sempre, e ela se rendia ao meu colo com grande facilidade.
Isso, hélas, acabou. Minha filha recusa com veemência meu colo para dormir. Perder essa situação especialmente é como uma queda do paraíso. Há poucas situações tão apaziguadoras, tão completas na vida quanto a de ter o seu bebê dormindo no seu peito (quantas vezes tive cãibras nos punhos e dores na lombar por não mudar de posição temendo acordá-la).
Meu narcisismo reage a essa perda alternando entre uma hipótese compensatória, que soa ridícula por projetar uma complexidade psicológica talvez inexistente num infans (ela me recusou porque sofreu quando eu me afastei um pouco dela; ou seja, a sua recusa é ainda uma manifestação de amor); outra meramente “prática” (ela prefere, ao meu colo ossudo de homem magro, o colo mais aconchegante da mãe e da nossa sábia babá baiana); e ainda uma terceira reação, que não chega a ser uma hipótese, e sim uma mera e dolorosa resposta afetiva de origem abertamente imaginária.
É verdade que essa minha queda do paraíso já fora encenada antes, e aqui mesmo nesta coluna. Mas se tratou, então, de uma perda de espaço passageira. Agora é diferente. Por mais que eu tente recuperar o terreno, alguns lugares da minha relação com minha filha parecem ter se fechado, e a mãe se tornou a referência maior, absoluta mesmo. Então, minha paternidade pré-edípica voltou a se deparar com a questão da sua natureza. E o que as pessoas me respondem é apenas um eco às avessas desse problema: “mãe é mãe”. A tautologia da expressão manifesta formalmente essa ideia: a maternidade pré-edípica não é uma questão. Ela está lá, assegurada por uma dimensão biológica (a gravidez e a lactância) e desdobrada em uma relação de confiança e alegria permanentes. Já o pai, “pai não é pai”.
Uma canção recente de Caetano diz: “Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação.” Já eu tenho e não tenho. Tenho, porque o Um é uma experiência de intensidade inigualável. Não tenho, porque considero o amor como a obra que começa precisamente quando se fura o espaço fusional do Um, abrindo-o para o terceiro que é o mundo. E não deve ser diferente com minha filha. Assim, ao fim dos primeiros três meses de intensa dedicação a ela, já estava desejoso de poder ir ao cinema, estudar com mais afinco, ir a uma festa sem precisar acordar às seis da manhã para trocar sua fralda (coisa que amo fazer). E, entretanto, ao me abrir mais para o mundo (sem deixar de estar com ela praticamente todos os dias), sofri com o lugar central que perdi junto a ela.
Mas, se eu mesmo afirmo o furo no Um, por que tenho sofrido com a relativização de meu lugar para a minha filha, uma vez que isso não significa falta de amor (pois ela o manifesta em diversas outras situações)? Acho que pela nostalgia do Um, mas também por uma ferida narcísica tola, além de injusta, já que o movimento da minha filha correspondeu à minha saída do lugar de dedicação quase integral a ela. Tudo isso para concluir, depois dessa estranha sessão pública de autoanálise, que não há razão para eu ter inveja da maternidade e sofrimento com o estatuto de “segundo lugar” da paternidade. Se mãe é mãe, pai é e não é pai. E eu me sinto bem entre o ser e o não ser, entre ser isso e ser aquilo, entre ser para o outro e ser para mim.
Chego ao fim desta coluna um pouco incomodado com seu tom demasiadamente pessoal. Mas para mim é mais possível o registro pessoal aqui, no jornal, do que no Facebook, por exemplo. Uma rede social é um espaço a um tempo privado e público. Ali eu não gosto de falar coisas privadas para pessoas que não são nem exatamente alguém (vida privada), nem ninguém (vida pública). Mas aqui eu falo para ninguém. E ao falar para ninguém eu sou ninguém”.
Francisco Bosco em O Globo, 2o. caderno.
